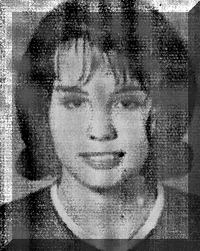A cidade dos engenheiros
Edição Impressa 178 - Dezembro 2010
| © reprodução do livro Dois séculos de projetos no estado de São Paulo (Imesp-edusp) |
 |
| Vale do Anhangabaú |
"Se até 1900 os interessados na questão 'alojamento' reuniam-se na casa dos higienistas, passaram eles a residir em separado. O engenheiro mantém com os higienistas relações proveitosas e cordiais, visitam-se com regularidade, mas não os vemos mais de braço dado: os primeiros encontram mais conveniência em se aproximar dos urbanistas", afirmou Victor da Silva Freire, engenheiro e diretor de Obras Públicas da prefeitura de São Paulo, em 1914, em sua conferência A Cidade Salubre, proferida no Grêmio Politécnico. "Entre 1890 e 1950, é impossível separar, no plano conceitual, o vocabulário do 'urbanista' (engenheiro e arquiteto) daquele do administrador público de São Paulo", explica a historiadora Maria Stella Bresciani, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e coordenadora do projeto temático Saberes eruditos e técnicos na configuração e reconfiguração do espaço urbano: estado de São Paulo, séculos XIX e XX, apoiado pela FAPESP. Segundo a pesquisadora, o saber erudito de técnicos e autoridades, propondo e acreditando-se capazes de dar respostas adequadas aos desafios de uma cidade que se modernizava, foi responsável pelas modificações ocorridas em São Paulo e marcou profundamente a relação entre o poder público e os interesses do capital privado, que tiveram grande peso na configuração do espaço urbano paulista.
Segundo a pesquisadora, o que distingue esse projeto de outros estudos sobre o mesmo tema são as indagações teóricas e históricas em dois eixos que se cruzam. "Em termos de história, indicamos a forma como os pressupostos do higienismo-sanitarismo permanecem ativos mesmo quando se estabelece o campo profissional de especialistas da cidade. Estudamos de que forma esses pressupostos se mantêm ao serem traduzidos em preceitos técnicos e incorporados à disciplina urbanística nos anos 1920, mesmo que engenheiros e arquitetos procurassem autonomia sobre o que chamavam de 'rigidez teórica dos higienistas'", observa ainda. "Pelo lado teórico, quisemos entender como funcionava o 'intervalo' entre a promulgação de leis, projetos e planos e sua efetiva aplicação ou execução, já que seriam – como outros estudos afirmam – meras cópias de ideias e modelos estrangeiros e, assim, inadequados à situação local", continua.
Avenidas – A historiadora lembra, para exemplificar a primeira situação, o Plano de Avenidas do prefeito Prestes Maia (1896-1965), concebido na década de 1930 e só implementado nos anos 1970. O segundo ponto é mais complexo, pois envolve, nota Stella, ir além da linha interpretativa das "ideias fora do lugar", pois "usar o argumento da importação de ideias para a configuração urbana de São Paulo impede a reflexão mais atenta sobre o processo de constituição de um campo conceitual do urbanismo como sendo um 'saber de domínio comum', composto de vários saberes e experiências, difundido e aplicado com mudanças por causa de situações específicas em diversos países quando se acrescentam opções práticas ao urbanismo abertamente pragmático", afirma. Basta recordar o que dizia, nos anos 1920, o engenheiro e prefeito de São Paulo, Anhaia Mello (1896-1974), ao lado de Prestes Maia um dos polos intelectuais que propuseram uma maneira de se pensar a configuração urbana da cidade. Embora preconizasse que "as ideias têm hoje uma efetividade imensa e um raio de ação quase ilimitado e imediato, que abraça o globo e vai sondar outros planetas", Anhaia Mello avisava que era preciso conhecer como os outros resolveram os problemas urbanos e "aplicar com inteligência, e não servilmente ou por mero espírito de imitação, os métodos e processos que se adaptem às nossas condições locais. Acima de tudo, afirmamos a importância de acompanhar a formação acadêmica e a atuação dos especialistas e, nesse processo, entender os momentos de definição de suas opções teóricas".
Assim, além de revelar a permanência dos pressupostos sanitários no urbanismo paulista e de superar a teoria da importação de modelos como forma de compreender a formação da cidade, o temático trouxe outro resultado significativo aos estudos existentes: a demonstração do poder do capital privado na configuração do espaço urbano paulista. Obras feitas pelos especialistas em questões urbanas que, acredita Stella, acabaram por atribuir à cidade a sua configuração moderna. "Além disso, os pressupostos desse saber científico e técnico desenvolvido na capital foram também aplicados na criação de novas cidades ao oeste, frutos da expansão da fronteira cafeeira resultante da implantação da rede ferroviária que influenciou a urbanização de toda essa área até os limites da cidade de São Paulo. As nossas pesquisas revelam o poder das companhias privadas e dos donos de propriedades rurais no estabelecimento das ferrovias e na feição urbana de cada nova cidade surgida nesse processo."
| © reprodução do livro Dois séculos de projetos no estado de São Paulo (Imesp-edusp) |
 |
| Faculdade de Medicina, em 1929 |
A implantação dessas cidades, segundo o grupo de estudos, pode ser considerada um marco no planejamento urbano, cujo objetivo maior era obter um rápido retorno do investimento feito. Após serem substituídas pelas rodovias, as estruturas arquitetônicas criadas pela expansão da rede ferroviária no interior do estado se transformaram em "ruínas modernas", também existentes na capital. "É preciso questionar para quem se preservam áreas e imóveis, por que e em nome de que passado. Ainda que essa preservação tenha sido feita em nome de uma 'linha de continuidade com o passado', ela deve ser pensada como trabalho seletivo de reconstrução desse passado", analisa a historiadora Cristina Meneguello, da Unicamp, integrante do temático. "Essa preservação virou 'tema favorito' nos meios de comunicação e no discurso político, mas é preciso questionar isso para além do seu lado 'positivo'. A apropriação da história não deve ser apenas uma citação material e visual, mas algo que mostre em si a possibilidade de transformação", continua.
Engenheiros – Para entender, aliás, essa transformação em seu processo, é preciso compreender como se chegou ao predomínio dos engenheiros. Afinal, antes deles, quem comandava esse desenvolvimento eram os higienistas. "As prescrições sanitárias eram baseadas na teoria miasmática, que atribuía ao 'veneno' presente no ambiente a causa das epidemias. Daí o surgimento de um corpo de profissionais que deveriam combater os 'males' aos quais as cidades estavam submetidas, realizando intervenções práticas para reduzir os 'miasmas'", explica a arquiteta e historiadora Ivone Salgado, da PUC-Campinas, integrante do temático. Uma epidemia de febre amarela em Campinas e Santos levou o poder público a decretar a inspeção dos cortiços do bairro de Santa Ifigênia. "Os médicos higienistas sentiram-se no direito de entrar no espaço privado das habitações coletivas, mais pobres, para uma intervenção 'ordenadora' da cidade e sugeriram a localização das futuras habitações de trabalhadores em vilas construídas numa distância de 15 quilômetros da capital. Era o início de um processo de segregação espacial que marca a cidade até hoje, designada pelos especialistas como 'padrão periférico de crescimento urbano'", continua Ivone.
Mas uma inovação científica, a microbiologia, levou à decadência da teoria miasmática, causando a emergência de um novo profissional responsável pelo saneamento urbano: o engenheiro sanitário. "Os novos programas de saneamento básico ficaram para os engenheiros municipais que se tornaram o braço técnico do movimento de reforma sanitária. A profissão de engenheiro experimentou um crescimento rápido", observa Ivone. "Os engenheiros a serviço da cidade eram chefes entre a elite tecnocrática, que construía e administrava a nova infraestrutura urbana e foram surgindo ao lado da classe emergente burocrática de funcionários permanentes da cidade." Ou, nas palavras de Victor Freire: "Passam eles a residir em separado". "É preciso ver a cidade moderna como um organismo complexo inserido num plano de expansão. Temos hoje, para sorte da sociedade, soluções técnicas", escreveu ele em 1918. Era a vitória dos "argumentos técnicos, científicos e econômicos", considerando todas as manifestações da vida da cidade em conjunto, em suma, "na essência do urbanismo". "Nas décadas finais do século XIX houve mudanças importantes nas formas de legitimar a autoridade municipal e as intervenções na cidade. Uma 'nova política urbana' surgiu, embasada na possibilidade de o Estado estabelecer critérios 'objetivos' para solucionar problemas 'reais' da coletividade", nota Stella. A parceria entre o engenheiro e o médico, continua a pesquisadora, indiscutível no século XIX, dá lugar, no fim da década de 1920, à parceria desigual entre o engenheiro urbanista e o especialista em sociologia urbana, seu colaborador. Em 1914, praticamente todas as cidades com alguma expressão econômica já contavam com serviços urbanos modernos. Havia base para tanto desenvolvimento.
| © reprodução do livro Dois séculos de projetos no estado de São Paulo (Imesp-edusp) |
 |
| Vale do Anhangabaú e viaduto do Chá |
A criação da Politécnica em 1894 e da Escola de Engenharia Mackenzie em 1896 deu nascimento a um núcleo institucional, de um centro a partir do qual se definiram as políticas para a ação oficial e privada no setor de construção civil. Foi o passo decisivo para a união entre o engenheiro e o administrador. "Seja porque os prefeitos procuravam esses profissionais para tocar os vários departamentos da administração pública, seja porque eles mesmos eram, na sua maioria, engenheiros formados pela Politécnica e falavam a mesma linguagem", nota Stella. São Paulo se orgulhava de sua independência e de seu saber erudito e técnico na relação entre o crescimento demográfico e espacial e as intervenções realizadas na cidade pelo poder público associado à iniciativa privada.
Livre – "Vimos as várias terras da província se cobrirem de vias férreas sob os auspícios fecundos da iniciativa privada; vimos se formarem ricas associações e companhias para explorar, sem a intervenção do poder estatal, os ramos mais importantes da indústria, agricultura e comércio; vimos a província do estado de São Paulo mudar completamente de aparência em poucos anos, impulsionada pelo poder admirável das associações livres, da vontade individual", escreveu o presidente de São Paulo, Paulo Egydio, em artigo ao jornal O Estado de S. Paulo em 1888. São tempos dos "melhoramentos": os empresários ricos da província passam a se estabelecer de vez na capital, o que levou as autoridades públicas a investir nas obras de "melhoramento e embelezamento" da cidade.
É afirmação recorrente na historiografia que a forma de se pensar a cidade pode ser dividida entre duas correntes representadas pelos engenheiros Anhaia Mello e Prestes Maia, ambos ocupantes da cadeira de prefeito de São Paulo em tempos distintos (Mello entre 1930 e 1931; Maia entre 1938 e 1945, durante o Estado Novo). "Mello propunha solucionar os problemas de congestão da cidade pela contenção e retração do crescimento urbano para criar uma 'transição equilibrada entre campo e cidade'. Prestes Maia, em posição oposta, defendia o 'esgotamento das potencialidades da metrópole e a remoção dos problemas por novas obras e novos planos'. Ambos representavam opções distintas do uso dos saberes técnicos e eruditos na configuração da cidade", diz a pesquisadora. Sylvia Ficher transcreve em Os arquitetos da Poli (Edusp) o depoimento do engenheiro-arquiteto Leo Ribeiro de Moraes, seguidor de Anhaia, em 1954. "Para lidar com questões de urbanismo são possíveis duas atitudes: a prática e a científica. A primeira, que foi advogada por Prestes Maia, é a que tem sido tomada até hoje pelos governos que se empenham em fazer 'alguma coisa'. A outra, adotada por Anhaia Mello, é a aplicação dos preceitos do urbanismo moderno para alcançar algo mais que a simples desobstrução do trânsito e a ornamentação de praças e avenidas."
Abridor – "Para Prestes Maia causava estranheza o 'esquema Anhaia', o que previa a proibição da instalação de novas indústrias em São Paulo e a limitação do crescimento da cidade, que dizia serem medidas para 'ananicar a nossa cidade por meio da forma'. Mas Anhaia Mello defendia a posição teórica correta, enquanto Prestes Maia se apoiava na posição mais pragmática de 'abridor de avenidas'", continua Ribeiro. Em 1929, numa coletânea de artigos, Mello designava, aponta Stella, a "ciência do urbanismo" como "cooperação" e criticava aqueles que "confundiam uma ciência tão bela e vasta com a simples técnica da engenharia municipal" ao subestimarem a necessidade da "colaboração do sociólogo, do legislador, do jurista, do político, do administrador, do economista e de todo o cidadão". O saber erudito vitorioso dos engenheiros, na visão de Mello, tinha novos preceitos: o "verdadeiro objetivo da civilização – construir belas cidades e viver nelas em beleza – exigia preparar o ambiente e formar uma psicologia urbana e anseio cívico, uma opinião pública esclarecida". Era preciso "limitar a expansão indefinida e desordenada de São Paulo" e "criar espaços de lazer para os operários". Mais importante, o esquema Anhaia criticava estruturas monopolistas e defendia o controle estatal sobre companhias privadas que ofereciam serviços públicos.
Prestes Maia caminhava na direção oposta e apostava no valor do capital privado, na opção por grandes avenidas perimetrais para fluidez da circulação, na adoção de soluções técnicas para o "ajuste permanente da metrópole às exigências de organização da sociedade moderna: a necessidade é evitar não o crescimento da metrópole, mas a interrupção do processo pela ineficiência do funcionamento urbano", afirmava. "Para Prestes Maia, a apresentação dos planos para a população pela imprensa só deveriam acontecer depois que o projeto já tivesse sido desenvolvido e elaborado pelos engenheiros da municipalidade", diz a pesquisadora. O saber erudito segundo Prestes Maia venceu a disputa. "Foi apenas nos anos 1950, após o fim do regime Vargas e o fim do mandato de Prestes Maia, que os profissionais do Departamento de Urbanismo começaram a incorporar algumas das ideias de Anhaia Mello." Mas a cidade já criara uma nova feição: os cidadãos estavam apartados das decisões de políticas urbanas. "As descobertas do temático revelam que a estrutura baseada no sanitarismo, na engenharia e na arquitetura não foi sucedida por um urbanismo técnico e mais adequado a lidar com a cidade. O caráter sanitário ainda se mantém como guia das ações urbanas", nota Stella. "Construir cidades é construir homens. O ambiente urbano é que plasma o caráter humano, de acordo com sua própria feição, para a fealdade ou para a beleza", já observava, com grande antevisão, Anhaia Mello em 1929.
__._,_.___
**Este grupo foi criado com o intuito de promover releituras da HISTÓRIA DO BRASIL e tão-somente HISTÓRIA DO BRASIL. Discussões sobre a situação atual: política, econômica e social não estão proibidas, mas existem outros fóruns mais apropriados para tais questões.
Por Favor divulguem este grupo e grato pelo interesse .
Visite o Blog do nosso Grupo:http://www.grupohistoriadobrasil.blogspot.com
Por Favor divulguem este grupo e grato pelo interesse .
Visite o Blog do nosso Grupo:http://www.grupohistoriadobrasil.blogspot.com
__,_._,___