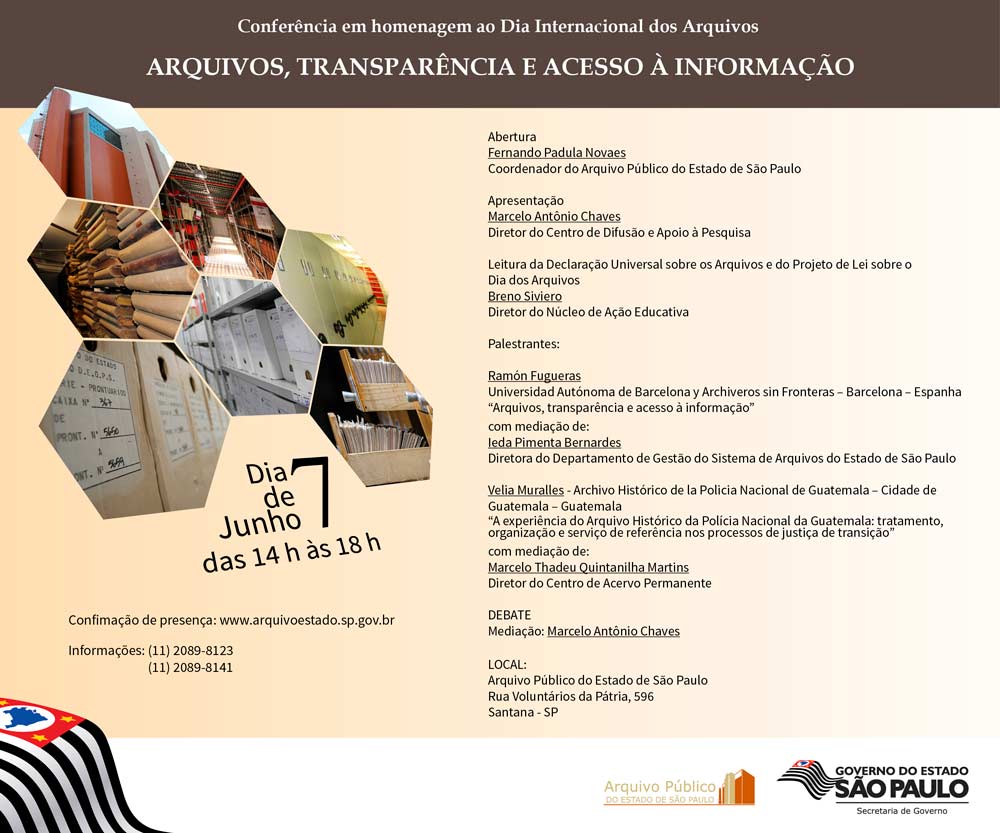Estudo que busca desvendar a origem dos índios botocudos coloca em dúvida a tese de que eles seriam descendentes diretos de uma primeira e hipotética migração para as Américas ( Foto: Índios botocudos, Santa Leopoldina (ES)/ Walter Garbe, 1909/Biblioteca Nacional Digital )
Estudo que busca desvendar a origem dos índios botocudos coloca em dúvida a tese de que eles seriam descendentes diretos de uma primeira e hipotética migração para as Américas ( Foto: Índios botocudos, Santa Leopoldina (ES)/ Walter Garbe, 1909/Biblioteca Nacional Digital )Fonte: Peter Moon | Agência FAPESP – Um dos principais mistérios da Antropologia Física brasileira – e que já dura 150 anos – está prestes a ser elucidado. Afinal, quem eram os índios botocudos? Seriam eles descendentes diretos de uma primeira onda migratória de paleoíndios com traços negroides que teria povoado a América do Sul há 13 mil anos, no final da Idade do Gelo? Ou seriam os botocudos uma etnia diferente de todas as demais etnias brasileiras, por possuirem DNA polinésio no seu caldo hereditário? Ou carregariam injustamente a pecha de “primitivos” desde os tempos do Brasil Colônia, já que seriam descendentes da mesma migração humana que derivou em todas as etnias indígenas do Novo Mundo?
Em um trabalho publicado em 2015 no American Journal of Physical Anthropology, os antropólogos físicos André Strauss, pesquisador associado do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos e do Laboratório de Antropologia Biológica do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP) e do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, em Leipzig, Alemanha;Danilo V. Bernardo, da Universidade Federal do Rio Grande; e Mark Hubbe, da Universidade Estadual de Ohio, em Columbus, Estados Unidos, entre outros, se propõem a eliminar uma daquelas possibilidades. No caso, a que prega que os botocudos seriam descendentes diretos de uma primeira e hipotética migração para as Américas. A pesquisa teve apoio da FAPESP nas modalidadesbolsa de doutorado e mestrado.
A onda migratória da qual os botocudos seriam os seus herdeiros modernos é simbolizada pelo chamado “Povo de Lagoa Santa”, nome coletivo dado aos 30 esqueletos fossilizados de paleoíndios descobertos pelo naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund em uma gruta inundada de Lagoa Santa, Minas Gerais, em 1844.
A hipótese de que os crânios dos botocudos teriam uma morfologia distinta da dos tupis, e talvez parecida com a do homem de Lagoa Santa, foi levantada pela primeira vez por antropólogos do Museu Nacional do Rio de Janeiro ainda nos idos de 1870.
Desde então, a busca de uma resposta para a questão tem impulsionado as investigações arqueológicas em Lagoa Santa. Um dos pontos altos desta pesquisa foi a missão franco-brasileira que encontrou, nos anos 1970, um crânio com cerca de 12.500 anos, apelidado carinhosamente de Luzia, a “primeira brasileira”, por Walter Neves, do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP.
Outro ponto alto da pesquisa foram as escavações realizadas entre 2003 e 2009 em diversas grutas e abrigos da região de Lagoa Santa. O trabalho foi liderado pelo próprio Neves, com apoio da FAPESP, no âmbito do Projeto Temático “Origins and microevolution of man in the Americas: a paleoanthropological approach”. Durante o trabalho de campo, Neves, que foi orientador de Strauss e Hubbe, escavou 23 crânios de paleoíndios com idades de até 8 mil a 10 mil anos. Foram esses crânios que forneceram a base principal de comparação para o estudo agora publicado.
A análise multivariada consistiu na comparação dos 32 crânios de botocudos da coleção do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro com a morfologia craniana de 3 mil crânios humanos modernos e pré-históricos de todo o mundo (incluídos aí 19 crânios de paleoíndios de Lagoa Santa e 66 de paleoíndios da Colômbia).
O objetivo dos pesquisadores foi chegar a um veredicto sobre a pretensa ancestralidade dos botocudos. O resultado comprovou o que os estudiosos do século 19 suspeitavam. “Nosso artigo confirma que a morfologia craniana dos botocudos era mais parecida com a dos crânios de Lagoa Santa do que com a dos tupis,” afirma Strauss.
O estudo sugere que a morfologia dos antigos paleoíndios foi conservada por milhares de anos nos ancestrais dos botocudos e sobreviveu até o século 19, apesar da existência de grupos tupis-guaranis ocupando a mesma região.
Daí se infere que a baixa afinidade morfológica entre os tupis-guaranis e os botocudos é sinal de um fluxo genético muito limitado entre os dois grupos. Em outras palavras, apesar de ocuparem as mesmas regiões por milhares de anos, praticamente não houve cruzamento entre os ancestrais dos botocudos e os dos tupis-guaranis.
Indo além, o fato de haver dois componentes genéticos, os ancestrais dos botocudos e os dos tupis, indicaria a existência de duas ondas migratórias distintas que teriam povoado o nosso continente – hipótese defendida por Neves desde os anos 1980.
Polinésios nas Américas?
Em 2014, um estudo internacional realizado a partir de DNA extraído dos crânios de botocudos do Museu Nacional e publicado noCurrent Biology, chegou a conclusões surpreendentes. Entre os crânios estudados, dois deles (os de números 15 e 17) revelaram ser 100% polinésios, enquanto os demais crânios da coleção eram 100% ameríndios.
A hipótese mais aceita para o povoamento das Américas prega que os primeiros grupos humanos que adentraram o Novo Mundo o fizeram através de uma ponte terrestre, hoje submersa, que existia no estreito de Behring. Essa ponte ligou a Ásia ao Alasca durante a Idade do Gelo, quando o nível dos mares era 130 metros mais baixo do que o nível atual.
Desde os tempos da expedição Kon-Tiki, do norueguês Thor Heyerdahl, que saiu do Peru em 1947 numa jangada para, três meses depois, atingir a Polinésia francesa, especulava-se se o povoamento das Américas teria ocorrido no sentido contrário, da Polinésia para o Novo Mundo.
Os autores do estudo entendem a surpresa do achado e procuram explicá-la por meio das seguintes suposições: o DNA polinésio poderia ter se imiscuído nas tribos dos botocudos do tempo do Império pelo tráfico de escravos entre a Polinésia e o Peru, ou entre Madagascar e o Brasil. Outras possibilidades seriam a vinda de polinésios ao Brasil como tripulantes de navios europeus – ou via travessias oceânicas realizadas pelos próprios polinésios.
“Como explicar que, à exceção daqueles dois crânios com DNA francamente polinésio, todos os demais possuem DNA ameríndio?”, questiona Strauss. “Como explicar DNA polinésio na costa atlântica do Brasil se jamais se encontrou nenhuma evidência neste sentido em nenhum outro ponto da América do Sul?”, complementa Hubbe. Se houvesse de fato ocorrido uma antiga migração polinésia para as Américas, por menor que esta fosse, seria de esperar que todos, ou pelo menos uma parte considerável dos crânios pesquisados, tivessem traços genéticos polinésios, o que não acontece.
Para Strauss e Hubbe, uma vez eliminadas todas as possíveis explicações para a chegada do DNA polinésio no Brasil, a única probabilidade que resta, e que deve ser verdadeira, é o fato de aqueles dois crânios com DNA polinésio não serem de botocudos. Em outras palavras, em algum momento nos últimos 150 anos ocorreu um erro no registro daqueles crânios.
“Fui ao Museu Nacional, pesquisei o tombo da coleção. Pude verificar que mais ou menos na mesma época da aquisição dos crânios de botocudos, na década de 1870, também foram adquiridos crânios da Polinésia para a montagem de uma exposição antropológica”, afirma Strauss. “Como o tombo do museu como conhecemos hoje só foi feito 30 anos mais tarde, já no início do século 20, tudo leva a crer que possa ter ocorrido um equívoco no registro daqueles dois crânios polinésios, que inadvertidamente acabaram rotulados como botocudos.”
Pesquisador com múltipla formação, Strauss irá concluir na Alemanha em 2016 um duplo doutorado em evolução humana, em Leipzig, e arqueologia, na Universidade de Tübingen. “Em museus alemães já vi crânios de gorilas classificados como sendo de chimpanzés. Esse tipo de troca pode ter ocorrido no Museu Imperial de Dom Pedro II no século 19.”
Com a palavra o geneticista Sergio Danilo Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais, um dos líderes do trabalho com DNA polinésio. “No nosso artigo tínhamos como coautores excelentes antropólogos cranianos, como o próprio Walter Neves, e provavelmente o maior especialista mundial na origem dos polinésios, Mark Stoneking. Nenhuma pista deixou de ser investigada”, afirma Pena. “É lógico que a possibilidade de troca no Museu Nacional foi extensivamente investigada, mas nenhuma evidência a seu favor foi encontrada.”
A suspeita de erro no tombo dos crânios faz sentido, porém jamais poderá ser comprovada. Não há forma de saber com certeza a origem e a real identidade daqueles dois crânios polinésios. O que é possível, e que está de fato em vias de ser conhecida, é a real ancestralidade dos índios botocudos.
Desde 2011, Strauss dá continuidade aos trabalhos iniciados por Neves na Lapa do Santo, dirigindo as escavações arqueológicas naquele abrigo rochoso. Ele revela que foram achados mais cinco crânios antigos, dos quais se procura, neste exato momento, extrair material genético no Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva – a instituição responsável por inventar as técnicas que revolucionaram o estudo de DNA fóssil e onde foi sequenciado o genoma dos neandertais. De acordo com Strauss, os resultados parecem promissores.
Afinal, quem eram os botocudos?
Os índios botocudos, também conhecidos como aimorés ou aimberês, eram assim chamados pelos colonizadores portugueses por causa dos discos de madeira (os botoques) que costumavam usar no lábio inferior e nas orelhas. No início do século 19, as tribos de botocudos viviam no vale do rio Doce, entre o Espírito Santo e a Bahia. Não eram tupis, mas pertencentes ao grupo linguístico macro-jê. Guerreiros, eles evitavam o contato com o colonizador branco, daí terem recebido a alcunha de “índios ferozes” ou “de vis aimorés”, como declama o poema I-Juca Pirama, de Gonçalves Dias.
Em 1808, Dom João VI transferiu a sua Corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. No mesmo ano, além de fundar o Banco do Brasil, a Casa da Moeda e o Jardim Botânico, o monarca assinou duas cartas régias deflagrando uma guerra ofensiva contra os botocudos. A primeira carta permitia o cativeiro de indígenas por até dez anos, ou enquanto durasse a “fereza” e a “antropofagia” entre eles. A segunda afirmava a intenção de colonizar o vale do rio Doce graças à guerra, tornando os territórios conquistados terra devoluta, própria para distribuição aos novos colonos.
A campanha militar contra os botocudos se estendeu por todo o século 19. Os que conseguiram sobreviver ao massacre fugiram para os vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Os pouquíssimos remanescentes só foram declarados oficialmente pacificados em 1912.
Ao longo de um século de perseguição, que resultou no extermínio dos botocudos, a alcunha conferida a eles como sendo índios “ferozes” foi aos poucos virando sinônimo de feiúra, de seres primitivos. A partir daí, foi natural os botocudos despertarem o interesse científico dos antropólogos do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
O artigo, assinado por André Strauss, Mark Hubbe, Walter A. Neves, Danilo V. Bernardo e João Paulo V. Atui, The cranial morphology of the Botocudo Indians, Brazil, publicado no American Journal of Physical Anthropology, está acessível no endereço: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.22703/abstract;jsessionid=60C5158D2873DCB73B13B0E4CB603A7D.f04t04