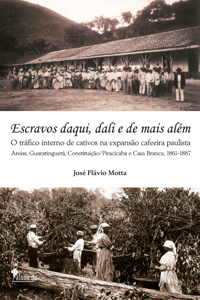Demian Bezerra de Melo - Doutorando em História (UFF) e Prof. Substituto de História (UFRJ)
A primeira parte do documentário de Patricio Guzman, A batalha no Chile, cujo tema é o golpe contra Salvador Allende, é denominado de "A insurreição da burguesia"[1]. Como o próprio subtítulo indica, seu autor atribuiu àquele 11 de setembro de 1973 não simplesmente o sentido de uma intervenção militar contra um governo constitucional de esquerda; nem simplesmente o de uma intervenção de "civis" e militares interrompendo um regime democrático; mas o de uma ação das classes dominantes chilenas articuladas ao imperialismo estadunidense. Para além do terrorismo de Estado, o caráter de classe do golpe chileno seria logo evidenciado pela rápida implantação de políticas econômicas neoliberais, estabelecendo uma experiência pioneira na aplicação das ideias de Hayek, Friedman, e seus epígonos.[2]
Quase uma década antes, o golpe de 1964 no Brasil foi entendido por uma série de críticos numa chave muito próxima à de Guzman quando interpretou os eventos chilenos. Embora por aqui o projeto vencedor não tenha sido o neoliberal, não há dúvida de que também consistiu em um movimento das classes dominantes lideradas pelas Forças Armadas e apoiadas pelo imperialismo estadunidense. Não obstante a natureza militar da operação golpista e da ditadura que se seguiu, a reflexão crítica sempre procurou compreender esse processo como parte da dinâmica mais geral do capitalismo brasileiro, buscando estabelecer a relação entre o "Big business", os núcleos do poder e a política daquele regime.
Florestan Fernandes, ao caracterizar, em A Revolução Burguesa no Brasil, a natureza contra-revolucionária da modernização capitalista brasileira, considerou o golpe e a ditadura iniciada em 1964 como uma exacerbação da natureza autocrática da nossa classe dominante. Se na República de 1946 a dominação política foi feita com a manutenção de procedimentos típicos de uma democracia-liberal, dando à autocracia burguesa um aspecto velado, com a ditadura militar a burguesia continuaria seu "baile sem máscaras", concluía o sociólogo paulistano.[3]
Em seu influente ensaio Crítica à razão dualista, escrito no contexto do chamado "Milagre brasileiro", Francisco de Oliveira também discutiu as condições sob as quais o regime ditatorial, ao contrário de estagnar a economia,[4] foi eficiente em acelerar a acumulação capitalista no Brasil, aceleração essa que se tornou possível graças às condições de uma super-exploração da classe trabalhadora estabelecida pelo regime ditatorial.[5] De acordo com o autor, a brutal concentração de riqueza e a repressão salarial – facilitada pela desarticulação da vida sindical – teriam criado as condições para a retomada do ciclo econômico, com a recuperação das taxas de lucro. Oliveira concluiu seu raciocínio com as seguintes palavras:
(…) o pós-1964 dificilmente se compatibiliza com a imagem de uma revolução econômica burguesa, mas é mais semelhante com o seu oposto, o de uma contra-revolução. Esta talvez seja sua semelhança mais pronunciada com o fascismo, que no fundo é uma combinação de expansão econômica e repressão.[6]
Não é por acaso que o auge da repressão tenha sido justamente no período do "milagre", como, a propósito, também apontaram Rui Mauro Marini e Theotônio dos Santos.[7] Autores que partiriam de registros teóricos distintos também enfatizariam a forte imbricação da ditadura militar brasileira com a dinâmica do capitalismo, como, por exemplo, Guilllermo O'Donnell em seu conceito de "Estado Burocrático Autoritário".[8] Pensado como um tipo ideal weberiano para caracterizar as ditaduras do Cone Sul dos anos 1960, tais regimes teriam como sentido a profundización da forma de capitalismo dependente que emergiu no subcontinente na década de 1950. Deste modo, tanto as experiências argentina de 1966-1973 quanto a brasileira iniciada em 1964 caracterizavam-se, segundo O'Donnell, pelo fato de serem regimes que buscaram criar as garantias institucionais que permitiriam a acumulação capitalista dependente. A despeito da experiência argentina ter sido um enorme fiasco, principalmente em comparação com o Brasil (que viveu seu "milagre" entre 1968-1973), o pesquisador encontrou a importante conexão histórica entre aquela nova forma de autoritarismo emergente com as ditaduras militares e as necessidades do padrão capitalista dependente recuperar as condições para o seu pleno desenvolvimento.
Com o trabalho do cientista político uruguaio René Armand Dreifuss, 1964, a conquista do Estado, o esclarecimento sobre a ação das classes dominantes naquele período-chave da história brasileira ganhou maiores contornos.[9] A partir de extensa documentação, Dreifuss estudou a fundo duas entidades centrais no processo político que conduziu ao golpe de 1964 – o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) –, buscando entender aquela "insurreição da burguesia" como resultado da ação organizada do setor mais internacionalizado do empresariado brasileiro. Tendo emergido como um capital multinacional e associado a partir do desenvolvimentismo do período Juscelino Kubitschek (1956-1961), tal fração de classe organizada por seus intelectuais orgânicos no IPES tornou esta entidade da sociedade civil um dos principais centros da conspiração que depôs o presidente João Goulart, apoderando-se do aparelho de Estado através da ocupação dos seus postos estratégicos. Áreas estratégicas como o Planejamento e a Fazenda ficariam desde o governo Castelo Branco (1964-1967) até o fim do regime, em mãos de ipesianos como Delfim Neto, Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões, entre outras eminências pardas civis.
Dreifuss demonstrou que, uma vez no poder, o IPES (como representante dessa fração internacionalizada do capital) conseguiu implementar grande parte de seu programa anteriormente formulado, empreendendo transformações importantes no arcabouço institucional de regulação do capitalismo brasileiro, através de uma vasta Reforma Administrativa, da criação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, introduzindo a primeira flexibilização da legislação trabalhista no Brasil – através da lei do FGTS – entre outras medidas no interesse do capital monopolista, além do Serviço Nacional de Informações (SNI), criado ainda em 1964 pelo general Golbery do Couto e Silva, ativo dirigente do IPES.
O "Big business" da ditadura
Um grande negócio para o grande capital, é como se pode sintetizar a ditadura de 1964 a partir de sua história. Em primeiro lugar, uma das resultantes daquele processo de aceleração da acumulação capitalista foi, além de uma expansão da fração do capital ligada à indústria de bens duráveis, o fortalecimento de outras frações das classes dominantes nacionais, cujos agentes teriam maior peso sobre o Estado no período subsequente. Como exemplos eloquentes, pensemos o empresariado ligado à construção civil (como os grupos Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e Odebrecht), à indústria pesada (Gerdau, Votorantim, Villares, entre outros), sem esquecer o sistema bancário (de que são exemplares os grupos Moreira Salles, Bradesco e Itaú), grupos que construíram ou consolidaram seus "impérios" naquele contexto.[10] No ramo das telecomunicações, a maior empresa do país, a Rede Globo, cuja trajetória de colaboração com o regime ditatorial está bem descrita no documentário Muito Além do Cidadão Kane, de Simon Hartog (Reino Unido, 1993), deve ser incluída na lista.
O auge da repressão no período do "Milagre brasileiro", a política permanente de arrocho salarial, garantindo lucros faraônicos ao grande capital e certa euforia do consumo entre setores consideráveis das classes médias, são certamente elementos que compuseram a relação de forças sociais estabelecida pelo regime. Não por mera coincidência, desde 1964 solidificaram-se aquilo que Paulo Arantes denominou de "vasos comunicantes" entre o mundo dos negócios e os subterrâneos da repressão que desembocariam na criação da Operação Bandeirantes e posteriormente os DOI-CODI,[11] como, a propósito, ficou bem evidenciado no recente documentário de Chaim Litewski,Cidadão Boilesen, de 2009.
Com a crise estrutural do capitalismo nos anos setenta, se exauriu uma das principais fontes de financiamento daquele "modelo" – o endividamento externo –, justamente no contexto em que era necessário um novo pacote de investimentos para que aquelas taxas de crescimento pudessem ser mantidas. A outra importante fonte de financiamento, que eram os excedentes resultantes do próprio ciclo interno de reprodução do capital, não eram suficientes para manter o ciclo ascendente por muito tempo. Depois de dez anos de política de arrocho, o sistema possuía limites estruturais para garantir a recuperação da taxa de lucro simplesmente a partir do aumento da mais-valia absoluta.[12]
Somadas a outros fatores, as contradições sociais do "modelo" explodiriam no fim da década de 1970, quando das memoráveis greves operárias do ABC paulista, principal ponto de concentração da indústria de bens duráveis no Brasil, particularmente a automobilística, um dos ramos mais beneficiados pelo "Milagre". Por entre as falas das lideranças operárias que organizaram aqueles movimentos, a denúncia do "arrocho" como política da ditadura para a classe trabalhadora foi uma constante. A falsificação dos índices de inflação,[13] que tornaria o nome do ministro Delfim Neto "famoso" entre os trabalhadores, não pode ser compreendida sem que estabeleçam os nexos reais entre aquela ditadura e o grande capital.
Aquela atmosfera conflituosa do final dos anos 1970 seria marcada pelo apelo do empresariado paulista aos aparelhos de repressão do Estado para coibir o protesto operário no mesmo momento em que o regime falava de abertura. Não era propriamente o projeto de abertura, mas o II Plano Nacional de Desenvolvimento do general Ernesto Geisel (que privilegiou o setor de bens de capital em detrimento do de bens duráveis), que criou atritos entre frações do capital e o governo. Mas tão logo o protesto operário saltou ao centro da cena política, a capricho foi posto de lado. Seja convocando a repressão direta das polícias estaduais paulistas (militar e civil); seja pela utilização dos instrumentos da estrutura sindical corporativista (pois, respondendo o apelo dos industriais, o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, lançou todos os recursos discricionários disponíveis como a cassação das lideranças sindicais, intervenção em sindicatos etc. para desmantelar a greve), os fortes compromissos do regime com o capital em seu conjunto explicitaram-se mais uma vez. Caso não entendamos esses vínculos profundos, podemos acabar nos contentando com uma denúncia da "maldade do sistema", correndo o risco de justamente não captar o que dava sentido às sistemáticas violações dos direitos humanos no Brasil (e no restante do Cone Sul) naquela quadra histórica.
Não foi assim descabido que a intelectualidade crítica não tivesse dúvidas em vincular o "terror de Estado" ao "Big business". E não foi por acaso que alguns opositores do regime recorreram à "expropriação de bancos" como forma de financiar sua luta, enquanto o grande empresariado nacional juntou-se ao regime para organizar a brutal repressão à resistência armada.
Buscando apreender criticamente esse processo, trabalhos como o de Dreifuss começariam a propor uma formulação conceitual tanto para o golpe quanto para a ditadura a partir do adjetivo "civil-militar", tendo "civil" aí um sentido claramente classista. Entendendo esses civis, como vimos, como parte de uma elite organicamente ligada aos interesses do capital multinacional e associado, o cientista político uruguaio nos ensina algo de fundamental sobre aqueles "civis" que fizeram parte do IPES:
Um exame mais cuidadoso desses civis indica que a maioria esmagadora dos principais técnicos em cargos burocráticos deveria (em decorrência de suas fortes ligações industriais e bancárias) ser chamada mais precisamente de empresários, ou, na melhor das hipóteses, de tecno-empresários.[14]
Todavia, nesses tempos que correm, o termo "civil-militar" tem servido mais para criar uma mistificação do processo histórico, qual seja, a de que a "sociedade" foi cúmplice daquela ditadura. A verdade é que o próprio termo presta-se à equívocos, por que pode levar a uma utilização na qual se passa a compartilhar a ideologia corporativa própria dos militares, que concebem a sociedade dividida entre eles e os "civis". Certamente não foi nesses termos simplórios que Dreifuss propôs a noção de "civil-militar". Vejamos isso mais de perto.
O revisionismo histórico sobre o golpe de 1964 e a ditadura
Foi nos anos 1990 que ganharam força no Brasil visões relativizadoras do golpe e da ditadura. A primeira operação realizada por essa "nova" literatura – que já discutimos em outro lugar a partir do conceito de revisionismo –,[15] foi a de deslocar a explicação daquela ditadura da problemática do capitalismo. Sob o argumento falacioso segundo o qual conectar o processo político à dinâmica econômica seria o mesmo que "economicismo", uma leitura "politicista" veio propor como explicação para o golpe e a ditadura um suposto "déficit democrático" na sociedade brasileira, de acordo com o qual, nos idos dos anos sessenta, tanto a direita quanto a esquerda seriam igualmente "golpistas". Um raciocínio que, antes de mais nada, beira a tautologia e se aproxima do de algo como: "existiu a ditadura por que não éramos democratas!"
O trabalho que inaugura este revisionismo histórico sobre o golpe de 1964 é o livro da cientista política Argelina Cheibub Figueiredo, Democracia ou reformas? Alternativas democráticas à crise política: 1961-1964.[16] Fruto de sua tese de doutorado em Ciência Política na Universidade de Chicago, a autora foi a primeira a propor uma abordagem alternativa ao livro de Dreifuss. Em seu livro, nos dois momentos em que visa criticar diretamente Dreifuss (na Introdução e no capítulo 6) Argelina afirma categoricamente que, em 1964, a conquista do Estado, "os conspiradores são vistos como onipotentes. Consequentemente a ação empreendida por eles não é analisada em relação a outros grupos, nem vista como sendo limitada por quaisquer constrangimentos externos."[17] Inaugurava-se assim uma longa e paupérrima tradição nos balanços bibliográficos sobre 1964 a partir do qual a obra de Dreifuss seria classificada como "conspiracionista".
A questão é que, ao contrário do que afirma Argelina Figueiredo, no livro de Dreifuss a crise econômica, combinada ao colapso das estruturas políticas, é justamente o que compõe a "crise orgânica", conceito chave que o autor retira de um dos cadernos de Gramsci para caracterizar as condições sobre as quais se processaram as lutas políticas no início dos anos 1960 no Brasil. Deste modo, não há uma conspiração que se desenvolve sem "constrangimentos externos". Pelo mesmo motivo, não há uma "narrativa linear" em Dreifuss, como se o golpe fosse um resultado "mecânico" da conspiração ou mesmo da supremacia econômica do capital multinacional e associado. Ao contrário, como é possível apreender da leitura de 1964, a conquista do Estado, foi na luta concreta que essa fração do capital (através do IPES) tornou-se a mais dinâmica das conspirações contra o governo João Goulart, derrotou o bloco nacional-reformista aliado ao movimento popular e, por fim, conquistou o Estado. A ocupação de postos dos quadros do IPES no aparelho de Estado e a implementação de diversas propostas absolutamente centrais do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) são dados simplesmente negligenciado por Argelina Figueiredo. Quanto à conspiração, embora reconheça sua existência, considera que Dreifuss à supervaloriza. Em seguida, a pesquisadora simplesmente abandona qualquer consideração sobre a mesma em sua própria explicação para o golpe, algo absolutamente estranho em uma proposta de abordagem do processo político que visa discutir o "comportamento estratégico" dos "atores políticos relevantes".
Como explicação alternativa, a autora nos apresenta a ideia de que entre 1961-1964 "as escolhas feitas pelos atores estratégicos" solaparam as possibilidades de "reformas dentro das regras do jogo", estreitando o campo de ação do governo Goulart e levando água ao moinho dos golpistas. Assim, o acirramento da radicalização teria criado um consenso negativo quanto à possibilidade de resolver os conflitos dentro dos "marcos institucionais". Para a autora, em pelo menos duas oportunidades esboçou-se a possibilidade de uma saída conciliatória para a crise política: durante o parlamentarismo e no início de 1963, quando o governo tentou implementar o Plano Trienal do ministro Celso Furtado. No primeiro caso, a autora condena Goulart por ter deixado de "aproveitar" o parlamentarismo, preferindo desmoralizá-lo; no segundo, condena as esquerda por terem sido "apressadas", pois obviamente o Plano Trienal desagradou os movimentos populares frustrados com a diretiva da ortodoxia monetarista que previa a contenção salarial como forma de deter a inflação. Para a autora, após o fracasso dessas implausíveis possibilidades, estreitou-se o campo de ação do governo, fazendo crescer o poder daqueles que acabaram por depor o governo, acabando com a democracia e a possibilidades de reformas.
Por fim, é necessário fazer uma observação sobre a natureza ideológica do problema que orienta o trabalho de Argelina Figueiredo. Afinal, tal oposição entre "democracia" e "reformas" é sintomática da adesão a um conceito específico de "democracia" que se liga ao pensamento neoliberal, cuja agenda esteve ligada ao desmonte dos direitos sociais (e parte dos políticos) e à redução do regime democrático aos marcos da concepção schumpeteriana.[18] De tal concepção, deriva uma outra, qual seja, a de que seria possível "negociar", com base nesse suposto "acordo" entre todos os "atores políticos relevantes", um programa de "reforma agrária moderado", como também o restante das "reformas de base". Assim, de acordo com a pesquisadora, o que teria faltado mesmo foi a disposição dos tais "atores políticos relevantes" para negociar uma saída que "preservasse a democracia".
Em uma historiografia que começaria a ser produzida no início os anos 2000 e que ganharia grande repercussão no contexto dos quarenta anos do golpe de Estado (2004), as teses revisionistas de Argelina Figueiredo encontrariam guarida, como pode ser aferido nos trabalhos do professor Jorge Ferreira (do Departamento de História da UFF), que explicitamente a toma como referência. Em inúmeros artigos em revistas acadêmicas e de divulgação científica, em capítulos de livros e em sua recente biografia de João Goulart, a explicação do golpe de Estado de Jorge Ferreira está centrada nesse suposto "déficit democrático", através de uma narrativa na qual, tal como em Argelina Figueiredo, a luta de classes e a própria conspiração estão ausentes. Ao contrário, Ferreira desqualifica tanto o trabalho de Dreifuss quanto o de Moniz Bandeira[19] justamente pela ênfase que esses dois pesquisadores deram tanto à luta de classes, quanto à conspiração. Também negando relevância a conspiração como elemento explicativo, o autor explica o processo político brasileiro onde "as direitas" sempre aparecem "assustadas com a radicalização das esquerdas", o que aponta aonde tais inovações historiográficas podem nos levar: "Entre a radicalização da esquerda e da direita, uma parcela ampla da população apenas assistia aos conflitos, silenciosa."[20]
Esse revisionismo vem ganhando importante lugar na produção de uma literatura destinada ao grande público. Em seu já famoso livro Ditadura envergonhada, o jornalista Elio Gaspari afirma, como se fosse auto-evidente, que em março de 1964 existiam "dois golpes em curso", o de Jango e o dos militares. Sua explicação é que "o país estava uma bagunça" e, temendo o golpe de Jango, os militares simplesmente "chegaram antes".
Havia dois golpes em marcha. O de Jango viria amparado no "dispositivo militar" e nas bases sindicais, que cairiam sobre o Congresso, obrigando-o a aprovar um pacote de reformas e a mudança das regras do jogo da sucessão presidencial.[21]
E quais as evidências que sustentam esta afirmação? A carta de um coronel golpista, o livro pró-golpe de Glauco Carneiro e um memorando do embaixador estadunidense Lincoln Gordon. Mais uma vez, nenhum tipo de evidência minimamente confiável.[22] Os intragáveis guias politicamente incorretosdisso e daquilo, ladeados pela biografia do ex-presidente deposto escrita por Marco Antonio Villa, que acusa Jango de golpismo, vêem somando-se a essa onda.[23] É de fato curioso: tanto na biografia quase hagiográfica de Ferreira, quanto na escrita por um direitista como Villa – que pauta toda sua explicação na suposta "incompetência" de Goulart – convergem para uma explicação similar do golpe de 1964.
Enquanto isso, no âmbito dos estudos dedicados à ditadura propriamente, o argumento do "déficit democrático" ganha ares de uma condenação generalizada às oposições armadas, em leitura proposta por um historiador de passado ligado a tais correntes. Sob o argumento de que ainda sob o regime de terror os compromissos da esquerda com a democracia não se faziam existir (já que estas queriam "implantar outra ditadura"), Daniel Aarão Reis ganhou expressivos setores acadêmicos e da opinião pública para a reprodução do que, afinal, sempre foi um dos argumentos principais dos golpistas e ditadores de plantão.
Em livro publicado em 2000, denominado Ditadura militar, esquerdas e sociedade, além de esposar a tese de que em 1964 os sinais se inverteram e foi a direita que apareceu ao lado da "defesa da Constituição" (uma tese, a propósito, dos próprios golpistas) – pois a esquerda "radicalizou" e passou a defender as "reformas na lei e na marra", diz –, o historiador propôs que o novo marco para o fim da ditadura fosse 1979, em razão da revogação do AI-5 e da promulgação da Lei de Anistia, que permitiu a volta dos opositores exilados.[24] Recentemente, o autor tem insistido na natureza "civil-militar" da ditadura, mas parece bem distante do sentido dado a este termo no citado trabalho de René Dreifuss.
Deslocando o capitalismo do centro da reflexão sobre o sentido da ditadura, a historiografia revisionista coloca em seu lugar um programa de pesquisas dedicado a investigar o "apoio" da "sociedade" ao "autoritarismo", incorporando perspectiva muito próxima ao revisionismo sobre o Nazismo que nos anos 1990 apareceu no livro do politólogo norte-americano Daniel Goldhagen, Os carrascos voluntários de Hitler. Embora rechaçada pela maior parte dos especialistas, justamente por culpar "todos os alemães" pela Shoà, um ponto de vista semelhante ao de Goldhagen parece estar presente nesses trabalhos interessados em apresentar o que seria a "opinião dos brasileiros sobre a ditadura" – algo evidentemente metafísico e mistificador.
Depois de explicar o golpe através da afirmação de que a esquerda também era "golpista" e "autoritária", o que se passa a dizer agora é que também a "sociedade brasileira" foi cúmplice daquela ditadura. Nessa visão, a "sociedade" é tratada quase como se fosse uma pessoa, algo, aliás, presente no paradigma liberal – que a define como uma "soma de indivíduos" – e que engendra argumentos como os de que "não é possível vitimizar a sociedade", ou de que, sendo pessoa, deveria "se colocar na frente do espelho". Em recente intervenção nesse debate,[25] Daniel Aarão Reis elencou três argumentos com os quais queria provar o tal "apoio da sociedade" à ditadura:
1) as Marchas com Deus, pela Pátria e Família, organizadas antes (em São Paulo) e depois do golpe de Estado (no Rio de Janeiro, capitais e muitas cidades do país);
2) as votações expressivas no partido de apoio à ditadura – Aliança Renovadora Nacional (Arena);
3) e a suposta popularidade do presidente general Emílio Médici (1969-1974).
Vejamos a consistência desses elementos. Em primeiro lugar, sim as marchas em apoio ao golpe e à ditadura já instalada foram massivas, afinal, ao contrário do que afirmou Jorge Ferreira, o povo "não assistiu bestializado" ao golpe de Estado, pois uma parte dele certamente o apoiou com algum grau de ativismo. Essa é, aliás, a natureza da crise dos anos 1960: a sociedade estava divida, à esquerda e à direita. Os derrotados obviamente não poderia se manifestar.
Em segundo, o argumento da "expressiva votação da Arena" não leva em conta que parte não desprezível da oposição ao regime pregou o voto nulo como forma de denunciar a farsa de ter de escolher entre o partido do "sim" (ARENA) e o do "sim senhor", o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), oposição consentida. O próprio autor, em seu supracitado livro Ditadura militar, esquerdas e sociedade havia enfatizado a enorme proporção de votos nulos e brancos nas eleições de 1966 e 1970,[26] mas hoje prefere abandonar esse elemento que afinal esclarece como parte da sociedade brasileira não colaborou nem apoiou aquela barbárie. Aliás, nas eleições de 1974, quando o regime afrouxou o controle sobre a propaganda eleitoral, o voto oposicionista foi vencedor, ainda sob o agora "popular" Médici.
Certamente nos anos Médici a ditadura viveu seu auge, o "Milagre brasileiro" e o desbaratamento da oposição anti-sistêmica simbolizaram a vitória dos preceitos que em 1964 conquistaram o Estado. A modernização capitalista e a contra-revolução estavam plenamente vitoriosas.[27] E certamente, essa supremacia, somada ao amplo uso de publicidade estatal (combinada a uma dose cavalar de coerção) produziu certo consenso, mas é preciso não exagerar. Pois o mínimo que se espera é que os historiadores sejam capazes de problematizar certas fontes, como o são as pesquisas de opinião feitas num contexto de uma ditadura. Imaginemos como qualquer opositor – seja revolucionário, reformista, de esquerda, liberal, democrático ou tropicalista – do regime ditatorial procederia em face de um entrevistador que lhe perguntasse o que achava do comandante em chefe da ditadura? Imagine-se alguém que ele nunca viu na vida na saída do estádio do Maracanã nos idos dos anos 1970 perguntando se o "presidente" Médici estava sendo "bom para o país"? Se não quisesse cometer suicídio, obviamente responderia o quão lindos eram o país, seu "presidente" e as Forças Armadas nacionais. Muito menos a euforia com o tricampeonato mundial de futebol (1970), a frequência a festividades cívicas, ou os aplausos ao general Emílio Garrastazu Médici nos estádios de futebol, podem ser contabilizados como provas suficientes de que apenas uns loucos não percebiam que aquele era "um país que vai pra frente", ainda que, certamente, a ditadura tenha sabido tirar um bom proveito disso tudo.
Considerações finais
Concluo esse artigo com uma breve reflexão sobre as implicações que esse revisionismo históricoencerra para o debate público do tempo presente. Especialmente neste contexto de instalação da Comissão Nacional da Verdade e destas bem-vindas manifestações feitas por jovens e velhos combatentes das esquerdas na frente das casas de torturadores – os escrachos. Como já tive a oportunidade de escrever, tais proposições aqui criticadas acabam por desaguar numa espécie de "anistia historiográfica",[28] ao atribuir homogeneamente as responsabilidades pelo "autoritarismo" à "sociedade brasileira". A história da ditadura precisa sempre ser reescrita a cada geração,[29] e a crítica a essas novas abordagens não pode ser confundida com uma simples defesa das abordagens clássicas, ainda que estas devam ser valorizadas, em vez caricaturizadas.
Termino com o que pode ser uma síntese das nossas proposições. Como a própria forma como essa corrente revisionista vem utilizando a noção "civil-militar" tem se prestado a confirmar as mistificações aqui alegadas, talvez fosse melhor que nos habituássemos a utilizar outro termo, também proposto por Dreifuss, e que talvez capture com maior precisão a natureza daquele regime: ditadura empresarial-militar.
Enviado via iPad
Fabrício Augusto Souza Gomes